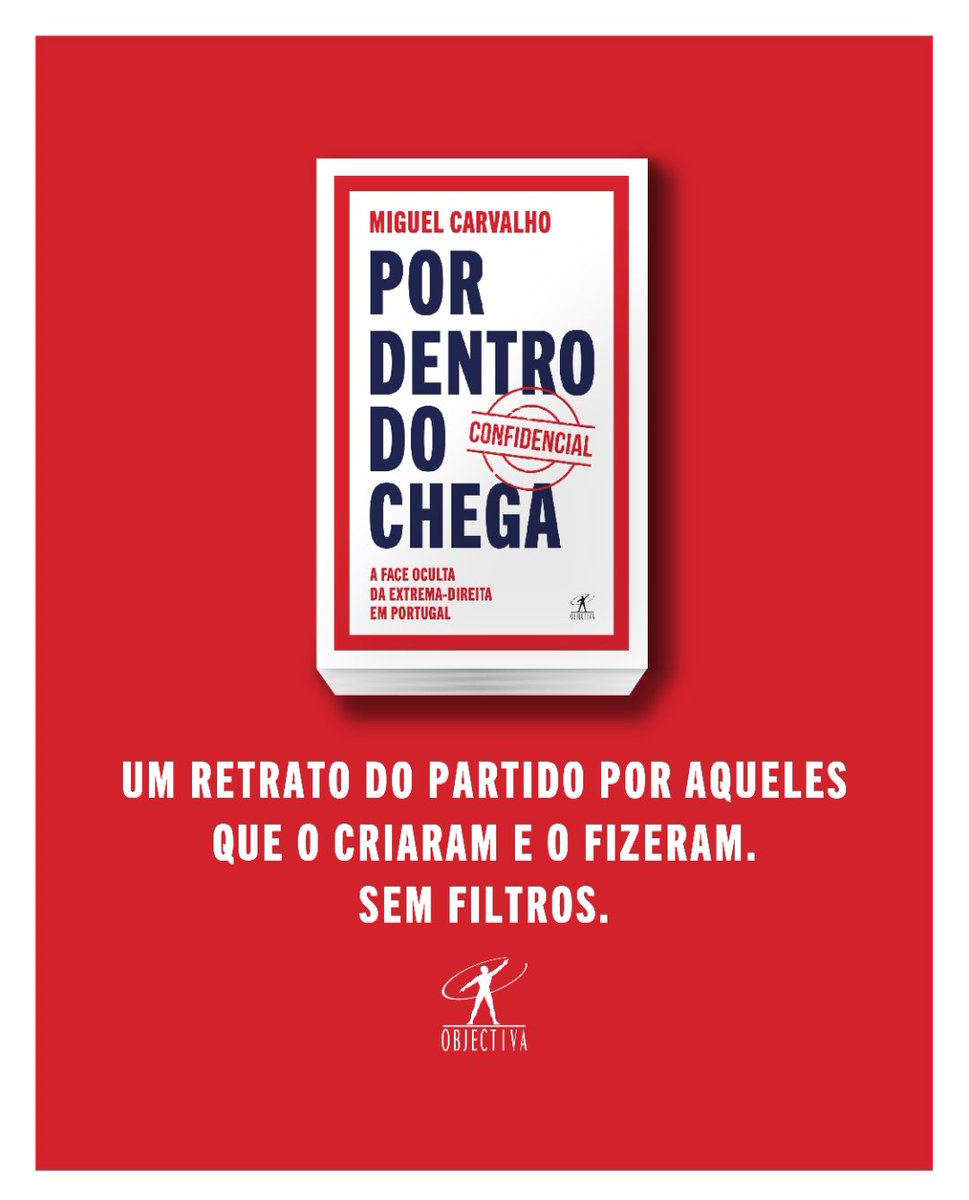Resumo
- E o modo como eram conduzidas pretendia causar mais do que o simples afastamento de um suspeito.
- O sono interrompido, o susto das crianças, o embaraço da prisão em pijama — tudo fazia parte de uma pedagogia da submissão.
- A associação MEMORIAPT está a reunir relatos de sobreviventes e familiares, e propõe a criação de um Memorial das Vítimas da PIDE — com base em testemunhos como o de Maria Clara G.
O relógio marcava quase três da manhã quando o estrondo na porta ecoou pela casa de paredes finas. “É a polícia!”, gritou a mãe, ao levantar-se num salto. O pai, militante sindical, já dormia vestido. Naquela época, saber que podiam vir buscar-nos era tão certo como a missa ao domingo. Era assim que a Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) operava: na calada da noite, sem aviso, sem mandado judicial, sem defesa possível.
As detenções arbitrárias foram uma das armas mais eficazes da repressão do Estado Novo. E o modo como eram conduzidas pretendia causar mais do que o simples afastamento de um suspeito: visava o medo, a humilhação e o silêncio dos que ficavam. Para cada um que era levado, muitos outros aprendiam a calar-se.
Sem crime, sem defesa
A denúncia bastava. Não era necessário cometer qualquer ilegalidade — bastava levantar suspeitas. Uma frase dita num café, um livro na estante, uma ida a um encontro sindical podiam ser suficientes. “Levaram-me porque distribuí um panfleto. Nem consegui dizer adeus à minha filha de quatro anos”, conta Álvaro M., preso pela PIDE em 1968 e mantido durante meses em isolamento, sem acusação formal.
A legislação do regime permitia prisões por “medidas de segurança” — uma categoria vaga, desenhada para legitimar detenções preventivas por tempo indefinido. O Tribunal Plenário, criado para julgar crimes políticos, funcionava como palco de encenação legalista, onde o desfecho era previsível.
Caxias, Peniche, Aljube: os nomes do medo
Caxias e Peniche tornaram-se sinónimos de tortura e repressão. Mas antes disso havia os interrogatórios nas sedes da PIDE. As celas de transição, onde o tempo parava. “Batiam à porta e, quando abrias, eram três ou quatro homens de gabardina. Não diziam nada. Apenas empurravam-te e revistavam tudo. Depois, ou ias com eles, ou esperavas pelo dia seguinte, a tremer”, recorda Júlia R., filha de um médico comunista preso em 1971.
Os arquivos do Arquivo Nacional da Torre do Tombo revelam centenas de casos semelhantes. Pessoas levadas de casa em silêncio, diante dos filhos, dos vizinhos, de ninguém. Muitas regressavam semanas ou meses depois, outras nunca voltavam. Algumas reapareciam no exílio, outras apenas constavam nos registos.
A máquina da intimidação
O impacto das detenções extravasava os muros da prisão. Quem via alguém ser preso aprendia rapidamente a moderar o discurso. O medo espalhava-se como uma névoa espessa. “Toda a vizinhança ficava em silêncio. As pessoas olhavam para o lado. E no dia seguinte, ninguém falava disso. Era como se não tivesse acontecido”, diz o escritor e antigo preso político Ernesto M.
As batidas noturnas também serviam um propósito simbólico: despojar os cidadãos da sua dignidade no momento de maior fragilidade. O sono interrompido, o susto das crianças, o embaraço da prisão em pijama — tudo fazia parte de uma pedagogia da submissão.
Reconstituir para não esquecer
Hoje, diversas iniciativas académicas e documentais procuram reconstituir esses episódios, cruzando testemunhos orais com documentos da polícia política. A associação MEMORIAPT está a reunir relatos de sobreviventes e familiares, e propõe a criação de um Memorial das Vítimas da PIDE — com base em testemunhos como o de Maria Clara G., que viu o irmão ser levado e nunca mais o encontrou.
A memória dessas noites é um antídoto contra o esquecimento. Contra a tentação, cada vez mais presente, de relativizar os horrores da ditadura. Contra a ignorância induzida por décadas de silêncio. E sobretudo contra o discurso revisionista que tenta pintar o Estado Novo como “apenas austero” ou “ordem sem violência”.
“Se te baterem à porta às três da manhã, não é normal. Nunca foi. Nunca pode voltar a ser”, afirma Clara.