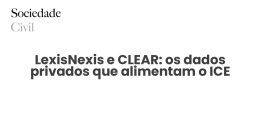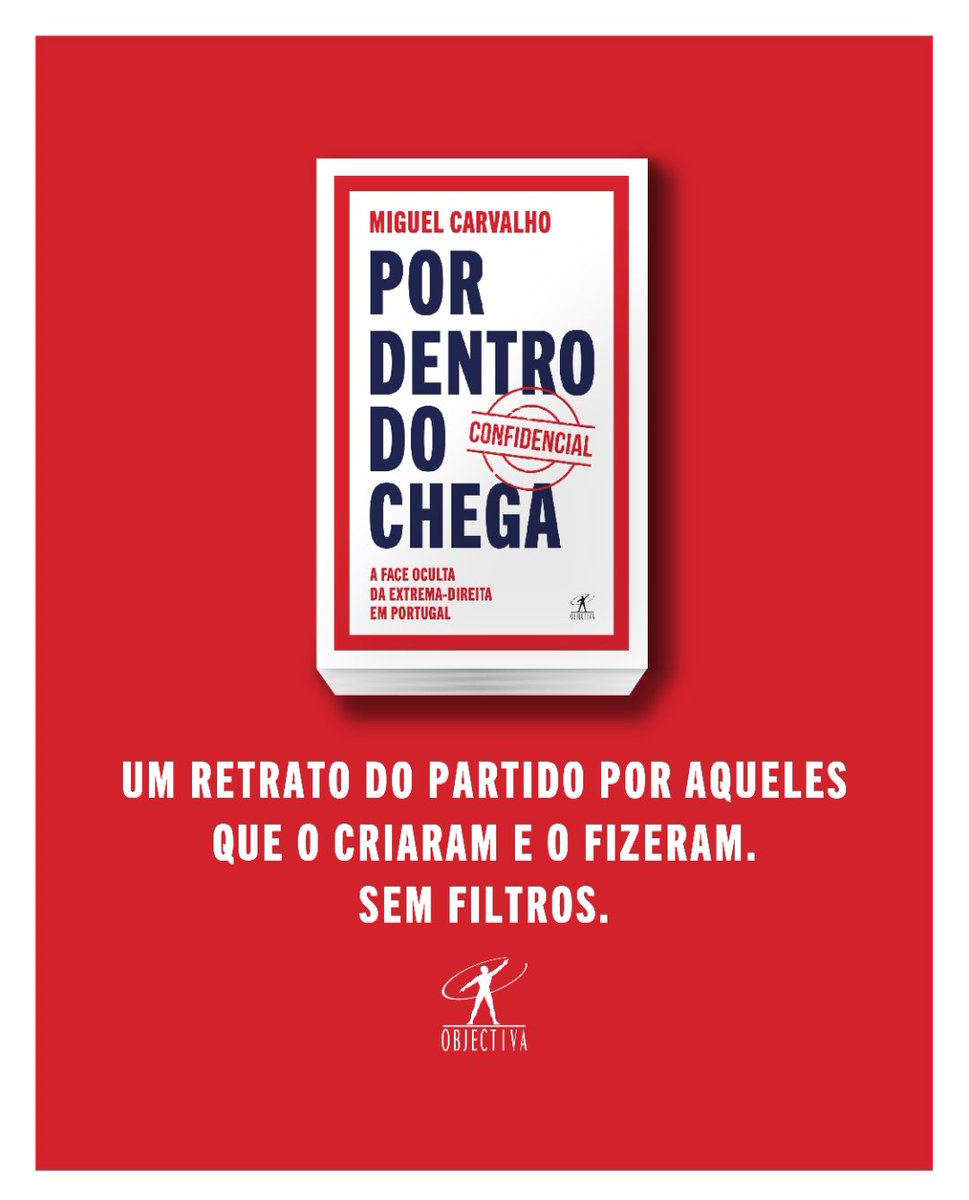Resumo
- O real, muitas vezes, não é aquilo que existe — é a representação que cada um constrói do que existe, filtrada por um processo cognitivo que escolhe, corta, dá forma.
- A palavra serve como filtro, não como crítica — e quem diz odiar propaganda acaba a viver dentro dela, confortável, porque ali nada o obriga a rever a própria perceção.
- Esse detalhe — a pressa na frase, a certeza automática — diz mais sobre o país do que um painel inteiro de comentadores.
A realidade não entra na cabeça como uma fotografia. Entra como um recorte. E esse recorte não é neutro: depende da visão do mundo, da perceção, do que cada um já traz escrito na cognição. Há quem veja “notícia”; há quem veja “propaganda”. Há quem leia um relatório e encontre método; há quem leia o mesmo parágrafo e ouça “manipulação”. O real, muitas vezes, não é aquilo que existe — é a representação que cada um constrói do que existe, filtrada por um processo cognitivo que escolhe, corta, dá forma.
É por isso que, quando a conversa começa com “isto é a esquerdalha”, “isto é jornalixo”, “há 50 anos de corrupção”, não estamos logo a discutir factos. Estamos a discutir cosmovisões. E discutir cosmovisões é mais duro do que discutir números: porque a pessoa não defende apenas uma ideia, defende a própria identidade, a forma como se orienta num país que lhe parece hostil.
O método repete-se com uma eficácia assustadora. Primeiro, desqualifica-se a fonte: imprensa, universidades, tribunais, estatísticas públicas. Depois, cola-se um rótulo ao tema. Só no fim entra o “argumento” — quase sempre em formato de suspeita e de medo, não de demonstração. André Ventura já usou a expressão “islamização da Europa” em mensagens públicas, com alarmismo explícito. E o slogan “50 anos de corrupção. É tempo de dizer Chega” tornou-se marca de campanha, com o peso emocional que a frase carrega.
Daquela certeza, restou apenas o eco.
O truque do rótulo: quando “jornalixo” substitui a verificação
“Jornalixo” funciona como botão de emergência. Dispensa o trabalho chato: comparar versões, pedir documentos, perceber datas. A partir daí, qualquer notícia vira ataque, e qualquer correção vira perseguição. A palavra serve como filtro, não como crítica — e quem diz odiar propaganda acaba a viver dentro dela, confortável, porque ali nada o obriga a rever a própria perceção.
Numa tarde húmida na Rua de São Bento, junto ao Parlamento, vi um homem encostado ao gradeamento, telemóvel na mão, a repetir “isto é tudo combinado” como se fosse oração. Bebeu o café de um trago, sem tirar os olhos do ecrã. Não citou um único dado, nem precisava: o guião já estava escrito. Esse detalhe — a pressa na frase, a certeza automática — diz mais sobre o país do que um painel inteiro de comentadores.
Poderiam argumentar que “a corrupção existe” e que “os partidos do arco governaram décadas”. Sim, existe. E sim, houve casos graves. A concessão honesta é esta: a desconfiança não nasce do nada. Só que transformar “corrupção” num carimbo para dispensar provas dá nisto: qualquer acusação encaixa, e nenhuma exige demonstração. O impulso torna-se argumento.
“Grande substituição” e “sangue puro”: quando a identidade vira arma
A teoria da “grande substituição” não nasceu em Portugal; circula na extrema-direita europeia e apresenta a imigração como plano deliberado de elites para trocar populações. É descrita em análises como teoria da conspiração que alimenta discursos anti-imigração, precisamente por transformar fenómenos complexos em narrativa de cerco.
É aqui que aparece a expressão venenosa — “portugueses de sangue puro”. Não descreve patriotismo; descreve exclusão. E abre uma política de suspeita permanente: quem tem nome diferente, quem reza diferente, quem nasceu noutro sítio, quem não encaixa na fotografia antiga do país. O que era cidadania vira genealogia. E quando alguém aponta o perigo, recebe a resposta pronta: “isso é a esquerdalha”. Fecha-se o diálogo. Fica o aplauso.
O mais perverso é isto: quem vive dentro desta lente não sente que está a recortar a realidade; sente que, finalmente, está a vê-la “sem filtros”. Só que o filtro continua lá — só mudou de dono.
Como furar a bolha sem pregar sermões
Se a pessoa rejeita estatísticas e ciência à partida, insistir em gráficos só reforça a defesa. A porta de entrada raramente é um número; é um valor: segurança, justiça, dignidade, contas pagas ao fim do mês. Depois, uma pergunta simples que obriga o processo cognitivo a trabalhar fora do trilho: o que te faria mudar de opinião? Se a resposta for “nada”, então não há debate — há fé.
E convém dizer isto sem insulto, porque insulto é gasolina: quando alguém se sente humilhado, não pensa, reage. A conversa muda quando se troca o duelo de rótulos por um pedido concreto: “Mostra-me a tua fonte. Quem escreveu? Quando? Com base em quê?” A seguir, pede-se o mesmo às nossas fontes. É aqui que a perceção começa a ganhar fricção com o real.
A frase de impacto é esta: quando o medo manda, a verdade paga o preço.
Em vez de discutir “islamização” como palavra mágica, faça-se o básico: o que está a acontecer, onde, em que escala, com que efeitos mensuráveis — e, sobretudo, que políticas funcionam sem esmagar direitos. Exigir método não é ser “da esquerdalha”; é ser adulto numa democracia. Porque uma sociedade que abdica de factos não fica mais livre. Fica mais fácil de conduzir.